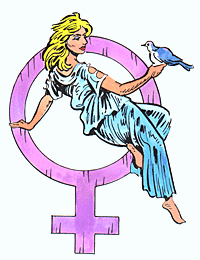4 – O Reino Antigo:
Como vimos, o período denominado Antigo Império (também chamado Reino Antigo) inicia-se com a III Dinastia, por volta de 2686. Mas qual foi a grande transformação que determinou que a Arqueologia (que, no caso específico do Egito, tem um nome mais apropriado: Egiptologia) e a História passassem a considerar o período iniciado com o Reinado de Sanakhte como sendo um período distinto daquele vivido pelas duas primeiras Dinastias Egípcias?
Bem, além do fenômeno da construção de pirâmides, que se inicia no governo de Djeser (ou Djoser), segundo Faraó da III Dinastia, outro forte dado para a escolha da III Dinastia como sendo o marco inicial do Antigo Império foi o provável estabelecimento da escrita hieroglífica (se bem que muitos estudiosos dessa escrita não concordem que as formas utilizadas no início do Antigo Império fossem as mesmas que se eternizaram como sendo o padrão de escrita hieroglífica clássica, encontrado, sobretudo, nos túmulos das Dinastias do Novo Império). Para este trabalho, aceitaremos a datação do início do Antigo Império na III Dinastia, mas entenderemos que o principal divisor de águas entre este novo período e seu predecessor seria tão somente a adoção de Hórus como nova Divindade Dinástica suprimindo o culto oficial de Set.
Baixo-relevo em parede mostra
ilustração de Djeser
4.1 – Os Semi-Deuses de Mênfis:
Os Faraós do Antigo Império governaram à partir da cidade de Mênfis, construída por Narmer e Aha no local tido como a mítica vila natal do Escorpião-Rei: Tura. Se esta procedência era verdadeira, não é possível saber, muito pelo fato de Mênfis não conter tantos resquícios arqueológicos quanto outras capitais Egípcias posteriores, como Tebas. Isso porque, pelo fato de a cidade se localizar praticamente no Delta, os índices pluviométricos, bem como os estragos causados pelas cheias do Nilo se fazem muito mais fortes; o que destruiu muitos possíveis achados.
Agora que o Egito estava definitivamente apaziguado e que já se podia contar com uma escrita (ainda que não totalmente definitiva) capaz de permitir a administração de longas faixas de terra (é bom que se saiba que aquilo que se entende como sendo o Egito compreende uma faixa de terra relativamente estreita que se localiza nas margens do Nilo nos seus últimos 1200km antes de atingir o Mediterrâneo), era chegada a hora de se estabelecer um regime que proporcionasse sua eterna continuação. Algo precisaria ser criado nesse sentido.
Com o intuito de se eternizarem no poder, os soberanos, devem, por volta do final da II Dinastia, ter se feito proclamar criaturas divinas. Isso talvez não fosse algo absurdo para aqueles homens e, possivelmente teria sido uma mera amplificação das atribuições dos antigos Reis-Heróis dos Spat Pré-Dinásticos. Na medida em que um desses Reis conseguiu se sobrepor aos demais e se fazer proclamar Faraó, o Rei do Alto e do Baixo Egito, era mais do que natural que só o tivesse podido fazer pela graça dos Deuses e, sendo assim, a idéia de que ele próprio fosse um “Escolhido dos Deuses” e, posteriormente um “Deus Vivo” não constituía um delírio, algo inaceitável pela população.
Há que se lembrar que o Egito não contava com nenhum meio de comunicação que não fosse o Nilo, ou seja, as notícias corriam, em geral através de convocações Estatais e histórias contadas de boca-a-boca, levadas Nilo acima e Nilo abaixo por mercadores, viajantes e oficiais do Faraó. Sendo assim, um indivíduo de tamanho poder, vivendo num palácio numa cidade mitológica, sobre o qual se contavam histórias incríveis seria naturalmente digno de temor, senão de adoração (ou talvez ambos); como um verdadeiro Deus.
A deificação do faraó se concretiza na III Dinastia e esta aliada à crença (agora reforçada pela descoberta da mumificação) na vida após a morte, tendia a transformar o poder do soberano algo incomensurável dentro dos padrões humanos.
4.2 – A Maat e o Espírito do Egito:
É impossível se estudar a História do Egito Antigo sem se mencionar e, principalmente, se compreender o conceito de Maat. Não é possível, no entanto, conceber com exatidão quando este conceito começou a ser formulado pelos Egípcios, porém, algumas sugestões podem ser dadas a esse respeito (farei isso, contudo, neste mesmo item, porém, após a explicação do que é a Maat).
Maat é uma palavra Egípcia cuja tradução literal implicaria em dois termos distintos, se bem que afins: Verdade e Justiça! Essa era a base sociedade Egípcia e, toda vez que este conceito era abalado, algo acontecia de muito grave no Vale do Nilo.
Para os Egípcios, a Maat estava relacionada à idéia de Ordem, de continuidade, ou seja, se tudo continuasse como sempre foi (camponeses trabalhando, guerreiros guerreando, governantes governando, o Faraó organizando tudo e prestando culto aos Deuses...), a Justiça e a Verdade estariam sendo cumpridas e espalhadas pelo Egito. Porém se algo abalasse a Ordem (algo simples como a morte do Faraó, ainda que por causas naturais), então a Maat estaria em risco.
Como foi afirmado, não é possível precisar quando esse conceito foi estabelecido, mas o mais provável é ele seja o resultado de uma busca por estabilidade político-social no Período Proto Dinástico (I e II Dinastias) enfim alcançada. É certo, porém, que para ter se tornado um conceito universal dentro do Egito, sendo cultuado e aceito por cada indivíduo desde o mais humilde camponês até o próprio Faraó e sua corte, a Maat não pode ter sido meramente formulada num dado momento e imposta à força à população, por isso, é provável que seu conceito seja uma reelaboração (e talvez até uma revisão) de costumes mais antigos, que talvez remontassem a épocas longínquas onde a população ainda era nômade. Aliás, uma boa teoria para o surgimento do conceito de Maat seria a idéia de diferenciação entre os povos sedentarizados das margens do Nilo e os povos ainda nômades que vagavam pelo deserto acampando e se estabelecendo temporariamente em oásis.
Quando um Faraó morria, o período de tempo até que um outro soberano assumisse o poder era um período de conturbações onde a Maat corria sérios riscos. As crenças populares relacionavam anos de cheias irregulares (muito altas (capazes de destruir vilas e casas ao invés de ajudar com o humos restaurador da vida) ou muito baixas (o que trazia a certeza de más colheitas e, portanto, de fome)) do Nilo com distúrbios na Maat. Tamanha era a crença na Maat que não é difícil relaciona-la com uma modificação na teoria da vida após a morte surgida no início do Antigo Império, ou seja, esta estaria agora totalmente dependente da Maat. Vejamos:
Se o Faraó era o enviado dos Deuses os Egito para assegurar a manutenção do Reino, cabia a ele, acima de qualquer outro, zelar pela Maat. Se seu governo tivesse sido bom e, dessa forma do agrado dos Deuses, então o Faraó mereceria culto por muitos e muitos anos (virtualmente pelo resto da eternidade), sendo assim, seria eterno no pós-morte. Se o Faraó fosse eterno no pós-morte, ele continuaria exercendo por lá o mesmo papel que exercia em vida, ou seja, o de governante e, dessa forma, precisaria de um Estado para governar. Esse Estado seria composto pelos indivíduos que habitavam o Egito enquanto ele era vivo e que, dessa maneira foram beneficiados por sua competente manutenção da Maat. Sendo assim, se o Faraó fosse bom e vivesse para sempre, logo todo o Egito viveria, ou seja, a vida após a morte dos indivíduos do Antigo Império não era individual, mas ligada ao Espírito do Egito: a Maat. Esta, por sua vez era dependente do bom governo do Faraó que, por sua vez,
só poderia se realizar com a colaboração da população o que obrigava todos a se engajarem na luta pela manutenção da Maat.
4.3 – A Expansão Territorial e a Formação do Exército:
Tão logo o Egito estava consolidado, a intenção dos Faraós se voltou para os territórios além Nilo, ou seja, para a Núbia (que, apesar de se localizar também às margens do Nilo, ao sul, talvez pela etnia, talvez pelas cataratas que constituíam barreiras naturais à expansão humana, não fazia parte do Egito), para a Líbia, para o Sinai e para os povos dos oásis.
O Egito havia alcançado um nível de organização político incomparável com qualquer civilização da mesma época, no entanto, seus exércitos ainda eram organizados da mesma forma primitiva que aqueles dos antigos Spat.
Homens que trabalhavam no campo e que não dispunham de qualquer treinamento militar eram periodicamente convocados pelos líderes regionais (sobre a organização política do Egito discorrerei um pouco mais adiante) para integrar o exército nacional. Recebiam lanças, fundas, clavas e manguais, às vezes recebiam certos tipos de capacetes e escudos e partiam, divididos em pelotões de infantaria apenas, para marchas de conquista.
É certo que a organização do Estado Egípcio, bem como a agricultura de irrigação, permitiam que o contingente populacional fosse bem grande, o que tornava praticamente impossível aos agredidos resistir por muito tempo aos assaltos Egípcios. Porém, perdas constantes de homens que constituíam força de trabalho tanto privada quanto pública (no período da Inundação) poderiam enfraquecer o poder do Egito.
Não é comprovado, mas especula-se que desde os tempos mais remotos o Faraó sempre fora o comandante militar supremo do Egito, sendo assim (coisa que não é de se admirar, uma vez que eram os descendentes dos antigos Reis-Heróis glorificados no combate), sua presença necessariamente inspirava os guerreiros que, afinal de contas, estavam combatendo lado a lado com um Semi-Deus.
Os contatos comerciais com a Fenícia foram alguns dos primeiros movimentos internacionais realizados pelo Egito centralizado, talvez até os Monarcas do Proto Dinástico já os tivessem iniciado e era através desses contatos que o Egito obtinha o cedro tão necessário para a navegação.
Os primeiros esforços militares de expansão devem ter sido em direção à Núbia, afinal, sabia-se que lá havia muitas minas de ouro. A região que não era tão bem organizada (na realidade não se sabe quase nada sobre a organização política da Núbia (atual Sudão) numa época tão recuada) foi facilmente submetida e nela foram instalados colonos mineiros. Além da instalação de Egípcios na Núbia, é muito provável que tenha havido um certo intercâmbio populacional, já que produtos da Núbia eram bem vistos no Egito e que, dentro de pouco tempo, passa-se a ver mercenários Núbios agindo como guardas pessoais do Faraó.
O domínio da Núbia consistia em se vencer as cataratas do Nilo e, sendo assim, no Antigo Império, ele não passou da região entre a primeira e a segunda cataratas.
Tomadas as minas da Núbia, o próximo passo era marchar rumo ao Sinai, a península que divide a África e a Ásia, localizada ao norte do mar Vermelho. No Sinai existiam grandes quantidades de cobre e este material era indispensável para a evolução militar do Egito, além de turquesas, pedras muito apreciadas pelos Egípcios (acredita-se que as primeiras expedições ao Sinai com o objetivo de obter turquesas tenham ocorrido ainda na I Dinastia, sob a liderança dos Faraós Djet e Den). Com o cobre extraído no Sinai foram confeccionadas novas armas, mais eficientes que as de madeira, sílex e pedra utilizadas até então e, a partir desse domínio, o fôlego militar do país dos Faraós aumentou.
Com o domínio do Sinai, estabeleceram-se portos no mar Vermelho e, a partir deles, foram lançadas expedições marítimas ao lendário Punt (país ou região mais comumente associada à atual Somália), de onde foram trazidas diversas raridades, inclusive girafas.
O próximo rumo dos exércitos seria os oásis, ou seja, seria a pacificação das populações nômades e semi-nômades que, por sua própria existência, comprometiam a Maat, visto que não pode haver Ordem num mundo de Caos e incerteza como o dos nômades e o que era pior, esse indivíduos habitavam as proximidades do Nilo e, vez por outra, atacavam populações de vilas menores em busca de saques e de animais domesticados. Isso precisava parar e os Faraós se dedicaram a faze-lo.
No caminho natural da expansão o Egito atingiu a Líbia, região que, devido à proximidade com o Delta e à característica nômade de sua população atacava freqüentemente o Egito, e de lá trouxe mais produtos inusitados e mais mercenários para servirem nos palácios do Faraó, bem como escravos (o Faraó Snefru, da IV Dinastia, aprisionou mais de sete mil Núbios e onze mil Líbios em duas campanhas distintas).
Por volta do início da VI Dinastia, os primeiros contatos comerciais entre Egito e Creta são relatados por fontes Minóicas (Cretenses), o que comprova que os Egípcios já haviam conseguido dominar a navegação marítima com certa tranqüilidade, a ponto de arriscarem precisos navios em comércio com Creta.
Com efeito, a expansão do antigo Império não foi um fenômeno rápido como a narrativa linear faz parecer, ela perdurou por mais de 400 anos sendo interrompida em determinados períodos e intensificada em outros. Porém, mais do que formar um grande Império, coisa que ela não foi apta a fazer (uma vez que apenas conseguiu pacificar parcialmente os povos nômades do deserto, e estabelecer colônias mineradoras no Sinai e no norte da Núbia a região mais tarde conhecida como País de Kush), essa expansão foi uma das responsáveis pela consolidação do ideal de nação Egípcia, na medida em que fez com que povos das mais variadas regiões lutassem juntos num só exército, além de por o Egito em contato com povos estrangeiros, coisa que, em escala tão grande, nunca tinha acontecido até então.
Como efeito secundário da expansão podemos notar a formação de uma espécie de guarda nacional de mercenários, responsável pela defesa do Egito e não pela conquista de territórios e uma melhora significativa na capacidade bélica dos exércitos com a introdução gradual de novas armas (primeiro os escudos, depois os capacetes e, por fim, as armas de cobre). No final do Antigo Império surge o kopesh, uma arma que viria a ser uma marca registrada da região do Egito por muitos e muitos anos, até mesmo os soldados de Napoleão Bonaparte tiveram que enfrentar guerreiros Mamelucos do Egito que, montados em camelos, empunhavam cimitarras, aperfeiçoamentos do antigo kopesh Egípcio inventado no final do Antigo Império.
4.4 – O Faraó, a Política e Poder no Egito:
Mencionei anteriormente que o Egito era dividido em Spat, ou Nomos, mencionei também que estes eram espécies de conglomerados de vilas próximas ligadas a uma espécie de vila-mãe e que eram aproximadamente 40 distribuídos ao longo de toda a extensão do Nilo.
Pois bem, a partir desses Spat, como já foi mencionado, se processou a unificação gradual do Egito que culminou na criação de dois Reinos que posteriormente foram unificados em um só por Narmer e seus sucessores.
A questão que nos resta é justamente como se processava a divisão política dentro do Egito depois de sua unificação, visto que, como já expliquei, antes dela havia Assembléias Populares (Zazat) e Conselhos de Anciãos (Saru), que foram gradualmente substituídos por autoridades Reais obtidas em batalhas.
Continuando uma evolução lógica da polícia Egípcia, percebe-se que através de alianças e/ou combates os antigos Reis-Heróis foram unindo os Spat sobre sua autoridade e essa união resultou no Egito, mas não podemos deixar de ter em mente que não é porque um povo é conquistado por outro e passa a ser por ele dominado que todas as suas particularidades culturais desaparecem. É certo, no entanto, que um domínio muito prolongado pode impor certos traços culturais do dominador, como, por exemplo, a língua (o que explicaria que apenas um idioma (o Egípcio) se espalhasse por todo o Egito). Após a unificação de alguns Spat, o Rei do Spat que se encontrava em situação de preponderância era intitulado Rei e os demais, governadores de províncias, essa situação permaneceu mesmo após a unificação de todo o Egito, sendo assim, esse antigos Reis passavam agora a ser espécies de governadores que, neste texto, seguindo o termo Grego, serão chamados de Nomarcas.
Cada Nomarca era, com efeito, uma espécie de Rei em seu Spat. Vivia em uma cidade central e controlava-a, bem como às diversas vilas que constituíam seu domínio. Havia um resquício do antigo Saru, ou seja, uma espécie de Conselho dos cidadãos mais importantes de cada uma das vilas que assistia o Nomarca no governo da província. O Zazat nunca deixou de existir, mas, é muito provável que se algum dia tivesse realmente tido algum tipo de poder de voto, no Egito unificado tenha sido reduzido apenas a uma reunião pública onde os membros do Saru comunicavam as decisões do Nomarca e/ou do Faraó.
É óbvio que um sistema burocrático tão descentralizado e, ao mesmo tempo tão centralizado (descentralizado do ponto de vista em que existiam diversas instancias de poder público e centralizado no sentido em que algumas dessas instâncias eram de fato detentoras de muito poder sobre as regiões às quais lhe cabia mandar) não poderia existir se não contasse com muitos oficiais régios. Estes oficiais, bem como os próprios governantes das mais variadas instâncias tinham de ser necessariamente letrados, sendo assim, os oficiais redigiam documentos ditados por seus superiores e eram encarregados de leva-los a quem fosse devido e de, no caso de avisos à população, lê-los em público. Estes oficiais são popularmente conhecidos como Escribas e trabalhavam na só no governo, mas também nos mais variados templos.
4.4.1 – O Alto e o Baixo Egito:
Como originalmente o Egito havia sido unificado em dois Reinos e como ele nunca deixou de se reconhecer oficialmente como a união de dois Reinos sob um único governante, nada mais natural que houvesse um governante no Alto Egito e um no Baixo Egito, ambos imediatamente abaixo do Faraó. Este cargo realmente existia era conhecido como Tjati (muitos livros referem-se a este cargo com o título de Vizir, o que é um erro, uma vez que tal título é de origem Turca e só seria implantado por volta do século XII d.C., quando os Seldjúcidas se tornariam Vizires dos Califas Abássidas de Bagdad), uma espécie de Primeiro Ministro.
Na realidade, o Tjati era o supremo chefe político do país e habitava em uma grande cidade do Reino, usualmente Hierakonpolis no Alto Egito ou Buto no Baixo Egito.
As atribuições dos Tjati eram as mais variadas possíveis, desde servirem como supremas cortes judiciais no caso de o julgamento dos Nomarcas não ser considerado adequado em algum caso, até ordens administrativas de menor importância relacionadas ao Reino. Com efeito, a própria existência do Tjati visava reduzir um pouco a já atribulada agenda do Faraó. Em tempos futuros, na época do Novo Império, passará a haver dois Tjati, um no Alto Egito que viria a viver em Tebas e um no Baixo Egito em Hiliópolis, sendo que, dependendo de onde o Faraó optasse por morar, ele poderia vir a ser controlado por um de seus Tjati. Este era o cargo de maior prestígio que poderia ser ocupado por alguém de origem popular, desde que, é claro, fizesse por merecer uma indicação do Faraó.
Ser Tjati implicou, como veremos, em várias épocas, em mandar no Egito inteiro sem que seu nome fosse conhecido por muitos, uma verdadeira “Eminência Parda”.
4.4.2 – A Agenda do Faraó:
O Faraó era o único verdadeiro Sacerdote de todo o Egito, além de ser o chefe supremo dos exércitos e da política. Apesar de ser considerado um Semi-Deus, o Faraó era apenas humano e, como tal, jamais daria conta de exercer todas essas obrigações sozinho, sendo assim, utilizava-se de auxiliares.
No caso da política, esse auxiliar era o Tjati, no caso dos exércitos, os Generais e no caso das funções religiosas eram os Sacerdotes.
Dependendo das características pessoais do Faraó ele poderia optar por ser aproximar mais de uma ou de outra função. Portanto, houve Faraós que se empenhavam muito e pessoalmente em campanhas militares, outros que viajavam o Egito inteiro freqüentemente para fazer cerimônias religiosas nos mais diversos templos da nação e outros que preferiam se ocupar de ordens políticas, como construções e recrutamentos para trabalhos diversos.
Estando presente o Faraó, era ele quem realizava o culto ao deus do templo, fosse este qual fosse, afinal, o Faraó era um Deus em essência, apesar de ser um homem na forma, o que lhe fornecia a atribuição de cultuar os seus iguais.
Como Sacerdotes, os Faraós podiam entrar nas câmaras escuras onde residiam os Deuses representados por suas estátuas, podiam vê-las, unta-las e vesti-las, podiam dar-lhes de comer e orar a elas. Em sua falta, quem fazia estas tarefas eram os Sacerdotes, os homens indicados pelo Faraó, ou em nome dele, para realizar funções sacras. O mais interessante sobre os Sacerdotes é que eles eram funcionários do Estado e não necessariamente fiéis do Deus que eram incumbidos de cultuar. Ocorriam muitas vezes de Sacerdotes devotos de um Deus serem nomeados para o culto de um outro, o que não influenciava na qualidade do serviço do indivíduo, visto que fazia parte de suas obrigações para com a manutenção da Maat prezar pelo cuidado com as estátuas dos Deuses.
De uma maneira um tanto aproximada, os Deuses originais de cada Spat continuaram sendo os Deuses principais daquelas comunidades para sempre, porém, a fama de alguns Deuses fazia deles campeões da fé nacional (como veremos mais adiante). O que é mais interessante é que aquelas entidades originalmente zoomórficas, com a deificação do Faraó (um humano), foram adquirindo formas intermediárias entre animais e homens, sendo assim, começam a surgir Deuse antropomórficos e ainda antropozoomórficos.
4.4.3 – A Sucessão Real:
Talvez por causa da atitude de Narmer de ter desposado uma princesa do norte, talvez por algum costume Neolítico mais obscuro, talvez por alguma tentativa de apaziguamento das populações do Baixo Egito perpetrada pelos Monarcas do Proto Dinástico, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que a fórmula de sucessão ao trono desde os primórdios do Antigo Império seguiu praticamente inalterada até o final do Novo Império, sendo que alguns Faraós posteriores vieram a adota-la novamente como forma de legitimação de seus poderes.
A fórmula não era tão simples quanto a tradicional primogenitura masculina Européia, ou seja, a forma de sucessão onde o mais velho filho homem do Monarca será o próximo governante. Entre os Egípcios, a sucessão Real era transmitida pelas mulheres, se bem que elas não pudessem legalmente ocupar o trono (ainda que em determinadas ocasiões o tenham feito).
Para começar a exposição, precisamos explicar que apesar de a monogamia ser a regra na sociedade Egípcia, o Faraó, e apenas ele, estava livre para se casar com quantas mulheres quisesse. As mulheres do Faraó eram distribuídas em três categorias de importância: Concubinas, Esposas Secundárias e a Grande Mulher do Rei.
Qualquer mulher que o Faraó desejasse, desde simples criadas, até uma camponesa, passando por escravas e até mesmo estrangeiras poderia ser uma Concubina. Essas esposas terciárias habitavam o harém do Faraó e eram verdadeiras escravas sexuais do Semi-Deus. Estavam sempre bem limpas e cuidadas estando à disposição do Faraó para saciar seus impulsos sexuais. Seus filhos muitas vezes se tornavam Oficiais, Escribas, Sacerdotes e Sacerdotisas, além de possíveis esposas (no caso de filhas) de Sacerdotes e dignatários de importância intermediária.
Princesas estrangeiras, filhas de grandes Sacerdotes e dignatários, esposas do Faraó morto, dentre outras mulheres de grande ou relativa importância poderiam vir a se tornar Esposas Secundárias do Faraó. De fato, os Faraós utilizavam este tipo de casamento como política de alianças e como chances de diversificação das chances de possuírem um filho homem. Porém, não devia haver muitas Esposas Secundárias, talvez um número aproximado de dez apenas. Filhas dessas mulheres estavam destinadas a se casarem com seus irmãos, com altos funcionários, como o Tjati, com Reis estrangeiros ou ainda a se tornarem Sacerdotisas de grandes templos do Egito. Os Filhos dessas Esposas Secundárias do Faraó poderiam vir a se tornar os novos Faraós, ou ainda altos Sacerdotes, Generais, chefes de colônias mineradoras estrangeiras (como no Sinai e na Núbia) e, mais tarde, Vice-Reis de importantes regiões submetidas.
A Grande Mulher do Rei era apenas uma, muitos autores se referem a ela como sendo a Rainha do Egito, mas isso é um erro, pois o seu título não a nomeava dessa forma. Sua procedência é controversa, sabe-se, no entanto, que Faraós poderosos como Amenófis III casaram-se com mulheres de origens não dignas e elevaram-nas à condição de sua Grande Mulher. Acredita-se que originalmente a Grande Esposa do rei devesse ser necessariamente uma princesa do Baixo Egito, sendo assim, ela poderia ser de linhagem estrangeira (descendente dos Acadianos), ao menos no Antigo Império. Caso ela tivesse filhos homens, uma deles (usualmente o mais velho) seria o novo Faraó, no entanto, caso ela só viesse a ter filhas, o indivíduo que viesse a desposar a mais velha delas seria o novo Faraó.
Por essa razão os Faraós costumavam preparar seus escolhidos como sucessores (usualmente um filho de uma de suas Esposas Secundárias) para estarem aptos a ocupar o cargo quando chegasse a hora e entre essas preparações constava o casamento do herdeiro com a filha mais velha do Faraó com sua Grande Mulher. Essas precauções eram tomadas para que no momento de perturbação de Maat advindo da morte do Faraó, nenhum oportunista forçasse seu casamento com uma das princesas e, dessa forma, se tornasse o novo Faraó.
Caso a Grande Mulher do Rei não tivesse nenhum filho, o novo Faraó seria aquele que com ela se casasse após a morte de seu marido. Com efeito, no Egito Antigo eram as mulheres que portavam o poder Real e os desígnios da Maat faziam com que um determinado indivíduo se casasse com elas e, dessa forma se mostrasse como sendo o eleito dos Deuses para ser o novo Faraó, para ser o Deus Vivo do Egito.
Mas se as mulheres transmitiam o poder Real, como as Dinastias mudavam?
Bem, Dinastias podiam mudar de várias maneiras, ataques, golpes de Estado... Porém, o modo mais usual era quando o Faraó morria sem deixar filhos homens, sendo assim um indivíduo que não pertencia à linhagem Real desposava a filha mais velha da Grande Mulher do Rei e se tornava Faraó. É bom, no entanto, que se tenha em mente que quem dividiu a História do Egito em XXXI Dinastias foi Mâneton, sendo assim é muito pouco provável que os Egípcios tivessem essa noção de continuidade e descontinuidade de governantes, só o que sabiam era que seu Semi-Deus os estava governando.
4.4.4 – Os Símbolos do Poder Faraônico:
Como já mencionei no item sobre o Escorpião-Rei, os principais símbolos de poder do Egito eram as duas coroas: a branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito. No entanto, não eram esses os únicos símbolos de poder daquela civilização que se encontravam nas mãos do Faraó.
A coroa branca e a coroa vermelha eram os mais antigos símbolos de poder do Egito tendo sido estabelecidas na época do Período Pré-Dinástico. Talvez fossem os símbolos de poder dos Spat que unificaram respectivamente o Alto e o Baixo Egito. Quando da unificação nacional, ambas caíram nas mãos de um só indivíduo e, ao invés de serem substituídas por uma terceira coroa, foram brilhantemente fundidas numa só, aliás, as duas coroas se encaixavam perfeitamente fazendo uma terceira coroa.
As influências semíticas nas tradições Egípcias são muito visíveis, por exemplo, um dos principais símbolos de poder dos Faraós era uma longa barba falsa presa a seu queixo, um símbolo de sabedoria e, por conseguinte, poder oriundo das tradições semitas.
Como o Faraó era ao mesmo tempo um bom pastor que guiava seu povo segundo os desígnios da Maat e um Deus punidor capaz de castigar quaisquer indivíduos que fossem merecedores de tal punição, ele utilizava em uma das mãos um cajado de ponta curva, como aqueles utilizados pelos pastores de ovelhas; e na outra mão um mangual como o utilizado pelos guerreiros nos campos de batalha para massacrar seus inimigos.
Com a expansão militar do Egito ao longo do Antigo Império e a participação do Faraó em campanhas militares, ele precisaria de um capacete que o protegesse de possíveis ataques nos combates, mas que também demonstrasse perante seus súditos que ele era o Faraó. Este capacete foi criado por volta do final da II Dinastia e concentrava em si o poder militar de todo o Egito. Ele era azul com listras douradas, talvez de ouro, além de possuir fitas de linho presas em sua parte posterior.
Outro símbolo de poder era o rabo de touro que o Faraó utilizava atado à sua cinta em ocasiões especiais, os especialistas ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre a função simbólica deste ícone, mas, possivelmente ele está relacionado à característica de pastor (condutor) que o Faraó possuía, algo semelhante ao cajado de pastor por ele portado.
Talvez o mais conhecido símbolo do poder Faraônico eram toucas de linho rijo com fios de ouro, normalmente vermelhas ou azuis que o Faraó utilizava sobre a cabeça quando estava em seu palácio, visto que ele nunca era visto em público com a cabeça descoberta (por razões que serão explicadas mais adiante neste mesmo sub-item).
Por fim, o Faraó possuía dois Nems, espécie de coroa que ele utilizava sobre a cabeça. Uma delas possuía as insígnias do Baixo Egito (duas enormes penas erguidas) e a outra possuía as insígnias do Alto Egito (um chifre de carneiro encerrando um disco solar).
Salvo pela exceção das coroas do Baixo Egito e Alto Egito e da coroa militar, todos os demais pertences podiam ser sepultados junto com o Faraó. Porém, as três coroas, por representarem o Egito, deveriam permanecer na atividade sendo transferidas de Faraó para Faraó. É possível que só tenha havido um único exemplar de cada uma delas ao longo de toda a História Egípcia, no entanto, nenhuma delas jamais foi encontrada.
Em todas as coberturas de cabeça utilizadas pelo Faraó havia uma serpente pendendo sobre a testa do Monarca. Acreditava-se que caso alguém se aproximasse muito dele sem ser convidado a serpente o fulminaria com um fogo venenoso. Além disso, qualquer um que tocasse ou fosse tocado pelo Faraó morreria instantaneamente por ter tocado o próprio Sol. A única maneira de evitar a morte numa ocasião dessas era obter o perdão do Faraó. Apenas em ocasiões muito especiais o Faraó permitia que indivíduos ilustríssimos se prostrassem perante ele e beijassem seus pés.
Havia Sacerdotes especialmente designados para manter as pessoas longe do Faraó, esses Sacerdotes, devido à proximidade que mantinham com o governante do Egito, precisavam se purificar constantemente com banhos para evitar sua própria ruína.
4.5 – Razões para a Desintegração do Antigo Império:
Ao longo de quatro Dinastias o Egito cresceu, se expandiu e dominou outras regiões. O comércio com países distantes como Punt, Fenícia e Creta trouxe artigos nunca antes vistos no Vale do Nilo, além de mercenários e escravos das mais diversas etnias. A introdução do cobre inseriu o Egito, ainda que tardiamente, na Idade dos Metais e o poder dos Faraós só fez crescer, sendo que a IV Dinastia foi seu período de maior esplendor em todos os tempos.
Dentro de um contexto de tanta pujança é difícil pensar que o Egito pudesse entrar em decadência. Muitos Historiadores têm se questionado sobre a razão que teria feito com que o Antigo Império se desagregasse. Porém, dada a distância no tempo em que se encontram os fatos é muito difícil precisar alguma coisa. Em termos gerais, três grandes teorias se mostram as menos imperfeitas acerca de tal desintegração. Vejamos as três:
Segundo alguns estudiosos, a razão para a bancarrota do Antigo Império teria sido o longo governo de Pepi II (Neferkará Phiops II), que, segundo alguns, teria durado mais de 90 anos. Para estes pesquisadores, o fato de um Faraó governar tanto tempo teria comprometido a política militar, uma vez que para eles apenas o Faraó poderia liderar expedições punitivas e conquistadoras, sendo assim, devido ao grande período de senilidade pelo qual teria passado Pepi II, essas expedições teriam deixado de ocorrer o que teria ocasionado a perda das colônias da Núbia e do Sinai, bem como um fortalecimento demasiado dos Líbios, dessa maneira, quando o Faraó morreu, seu sucessor não teria sido forte o suficiente para combater as investidas Líbias e o Antigo Império teria entrado em colapso. Para agravar a situação, Pepi II teria vivido mais do que seus filhos e esposas, sendo assim, teria morrido sem deixar herdeiros legais, o que acarretou numa mudança de Dinastia e, por
conseguinte, na ascensão de um Monarca sem legitimidade ou ainda, quiçá, no início de disputas Dinásticas que teriam corroído o Reino de dentro para fora.
Essa teoria pode ser convincente, mas há nelas alguns problemas, por exemplo, um dos mais fortes indícios para se crer que Pepi II viveu tanto são as listas de Mâneton (que já foram mencionadas), no entanto, como já foi dito, no que se refere às seis Dinastias do Antigo Império, Mâneton prolonga em demasia os governos de modo a conseguir fazer com que a História do Egito remonte ao século XCV a.C., ao invés do século XXXI a.C, como se pensa hoje. Outro motivo é que se alega que uma estela datada do governo de Pepi II confirmaria o longo governo daquele Faraó, no entanto, se analisarmos a própria História do Egito, veremos que no Novo Império, o Faraó Horemheb (último governante da XVIII Dinastia) fez com que os nomes de seus quatro predecessores (Aye, Tutankhamon, Smenkhare e Akhenaton) fossem riscados do mapa, dessa forma, seu primeiro ano de governo foi legalmente seu trigésimo. Caso este Faraó tivesse governado por trinta anos mais, teríamos um governo de
sessenta anos. É claro que no caso de Horemheb, sua farsa foi descoberta pelos Egiptólogos, porém, ele Reinou quase mil anos depois de Pepi II, sendo assim, muito mais vestígios nos restam dos tempos de seu governo. É muito possível e provável que Pepi II, seja por que motivo for (no caso de Horemheb, como veremos, foi pra apagar da História o Período de Amarna, comandado por Akhenaton), tenha querido alongar seu tempo de governo e, sendo assim, talvez tenha mandado suprimir da História o governo de um ou mais Faraós ganhando vários anos para seu governo e conseqüente glória. Dou essas afirmações como certas pelo fato de a expectativa de vida média dos habitantes do Egito Antigo não ser superior a 45 anos. É verdade que as condições de vida do Faraó eram as melhores possíveis, mas também é verdade que mais do que dobrar a expectativa de vida média de uma população é algo muito difícil, para se ter uma idéia, um brasileiro que conseguisse a proeza de Pepi II teria que viver
ao menos 150 anos. Como disse uma vez ao jornalista Roberto Navarro da Revista Super Interessante, em entrevista; acredito que seja pouquíssimo provável, senão impossível, que Pepi II tenha vivido tanto, sou muito mais propenso a pensar que seus infindáveis anos de governo se tratem de uma fraude Histórica ainda não descoberta.
Agora que já desmistifiquei o longo governo de Pepi II, resta-me a árdua tarefa de explicar porque então o Antigo Império entrou em desintegração e acabou ruindo tão rapidamente.
Antes de começar a expor minhas teorias, gostaria de dizer que elas não são minhas, mas apenas duas das teorias a que tive acesso em minha pesquisa. Não as considero perfeitas, mas, tão somente, as melhores dentre as que pude ler.
Alguns pesquisadores, apoiados em dados climáticos passados (não me perguntem como tais cálculos são feitos, não entendo nada de astronomia, geologia e coisas do gênero) chegaram à conclusão de que houve um período de leve resfriamento no centro da África por volta do final do século XXIII e início do XXII a.C.. Este resfriamento não foi significativo a ponto de se tornar perceptível para as populações que habitavam as margens do Nilo, no entanto, foi o suficiente para reduzir o fator de degelo das montanhas onde nasce aquele que é tido como o mais extenso rio do mundo. Graças a esse degelo diminuto, as cheias de vários anos a fio não foram suficientes para sustentar a agricultura necessária para a manutenção do Egito e, sendo assim, uma crise iniciou-se.
Com os armazéns vazios, o Faraó não teve escolha senão suspender o envio de comida para as colônias mineiras do Sinai e da Núbia, além disso, expedições militares se tornavam inviáveis, por demandarem provisões em estoque. Sem comida e sem ouro, o comércio internacional também naufragou e, dessa forma, o Egito começou a regredir.
Naturalmente, esses desequilíbrios climáticos provocaram o caos e foram vistos como um forte abalo na Maat, sendo assim, o poder do Faraó começou a ser contestado. Aliado a isso, talvez esteja o fato de Pepi II ter vivido muito (não os quase cem anos que lhe são atribuídos, mas ainda assim, muito), o que pode tê-lo deixado sem herdeiros, sendo assim, quando este veio a falecer, uma luta sucessória pode ter sido desencadeada (como falaremos mais adiante) essa luta aliada às invasões do Delta pelos Líbios que já não eram combatidos em suas terras, fez com que o poder dos Nomarcas voltasse a crescer e, sendo assim, os Spat voltaram a ser independentes na prática e cada Nomarca voltou a ser uma espécie de pequeno Rei.
A outra teoria, a que considero a melhor e, portanto, a que deixei por último, não associa a derrocada do Antigo Império a um rápido período ocorrido na VI Dinastia, mas sim, a um longo processo Histórico iniciado na gloriosa IV Dinastia. Segundo essa teoria, os Monarcas da IV Dinastia, por se sentirem tão divinos quanto a população julgava que fossem, teriam desenvolvido práticas protecionistas em relação a família Real. Dessa forma, todos os cargos públicos importantes passaram a ser ocupados por pessoas dessa família, talvez para evitar, como havia ocorrido na III Dinastia, que um indivíduo de origens populares como Imhotep (do qual falaremos mais adiante) ascendesse a cargos que lhe proporcionassem uma futura deificação.
Talvez como forma de garantir que sua família fosse perpetuada na condição de grande soberana do Egito para todo o sempre; os Faraós da IV Dinastia desenvolveram uma revolução religiosa (que será pormenorizada no item específico). Essa revolução consistiu basicamente em intensificar o culto a uma divindade antiga: Ra, de Heliópolis.
Ra, o Deus Pássaro, era tido como pai de Hórus (se bem que como veremos, este Deus também era filho de Osíris), o Deus Falcão da Realeza e, sendo assim, seu clero passou a ser imposto como o principal clero do Egito, coisa que até então nunca havia acontecido. O acesso ao clero de Ra só era permitido aos membros da família Real e, sendo assim, por esse subterfúgio, eles podiam permanecer no controle de todos os aspectos da sociedade, com seus pares legitimando suas ações.
No entanto, o que inicialmente pareceu uma boa idéia, logo se mostrou ruim, visto que a procedência Real dos Sacerdotes de Ra fazia com que suas reivindicações possuíssem muito mais legitimidade do que a de quaisquer outros indivíduos, sendo assim, o Faraó passou a doar terras para o clero de Ra, o que fez com que ele se tornasse extremamente poderoso.
Com o fim da IV Dinastia e a ascensão da V, o clero de Ra continuou dominado pelos descendentes da antiga Dinastia Reinante e, sendo assim, como já não viam seus parentes sentados no trono de Mênfis, começaram a utilizar seus poderes políticos (advindos das terras dos templos que lhes haviam sido doadas pelos Faraós da IV Dinastia) e sua força religiosa para pressionar o poder central. Em pouco tempo, o Faraó, que antes era o Hórus vivo, ou seja, um Deus, passou a ser visto como o filho de Ra, ou seja, o filho de um Deus, o que diminuiu seu status. Isso explicaria o fato de na V Dinastia a construção de pirâmides ter declinado (com a diminuição do tamanho e da importância devotadas a essas construções) e a construções de templos e obeliscos (estes eram os tronos de Ra na Terra, onde ele se sentava todas as manhãs, com o nascer do Sol) a Ra ter se intensificado.
Visando consertar essa situação, os Faraós da VI Dinastias passaram a favorecer os Nomarcas, visando adquirir uma forte base de sustentação política que lhes permitisse suplantar o poder do clero de Ra. Porém, essa tentativa teria sido o último erro dos Monarcas do Antigo Império, uma vez que os recursos destinados a financiar a expansão eram agora doados aos Nomarcas. Estes, por sua vez, ao invés de garantir sustentação política ao Faraó, se fizeram, aos poucos, pequenos Reis em seus próprios Spat, alguns, se fazendo adorar entre seus subalternos, como verdadeiros Deuses. O Faraó viu seu poder ruir e aí talvez entre o longo governo de Pepi II, que, por ter visto o Faraó morrer sem deixar herdeiros legítimos, teria precipitado uma crise que já se arrastava lentamente desde o período de maior poder dos Faraós do Antigo Império.
4.6 – Práticas Funerárias do Antigo Império:
Durante todo o Antigo Império a capital do Egito foi a cidade de Mênfis e, em suas proximidades existe uma região conhecida como Sakkara. Nesta região, desde os primórdios da I Dinastia, os Faraós eram enterrados em suas mastabas (como já foi mencionado). Sakkara acabou por se transformar numa espécie de Necrópole, a primeira do Egito Antigo.
Com o tempo os Faraós construíam suas mastabas e, ao seu redor, mastabas menores eram erigidas para seus asseclas mais próximos.
Não se sabe ao certo com que intuito (se bem que isso será discutido mais adiante), mas provavelmente com o de demonstrar sua grandeza, o segundo Faraó da III Dinastia: Djeser (de quem já fiz alguns comentários), incumbiu seu Arquiteto Real de construir um túmulo piramidal.
Ao contrário do que se pensa, os Egípcios não eram grandes matemáticos (ao menos não até Euclides, no século IV a.C., mas mesmo este não era Egípcio, mas Grego radicado em Alexandria), sendo assim, suas obras arquitetônicas monumentais se tornam ainda mais maravilhosas.
Pirâmide de Imhotep
A pirâmide de Djeser, por exemplo, foi construída por Imhotep (sim este é o indivíduo que inspirou o filme “A Múmia”, se bem que seu comportamento e sua história nada tenham em comum com os do personagem monstruoso do cinema hollywoodiano) à partir de cálculos simples apoiados por tentativas. Esta pirâmide, também chamada de pirâmide de mastabas foi a primeira do Egito e consistiu basicamente de uma pilha de cinco mastabas em tamanho decrescente.
Estátua de Imhotep
O Imhotep do cinema ("A Múmia")
A fama alcançada por Imhotep devido à construção da pirâmide foi tamanha que ele se tornou popularmente conhecido como o homem mais sábio do Egito, sendo considerado um grande arquiteto, médico e mágico. Quando faleceu, passou a ser cultuado como Deus da Cura, tendo seu culto resistido até o Período Ptolomaico. Ele foi realmente o criador da medicina Egípcia, além de ser o inventor dos tetos sustentados por colunadas, técnica que depois seria exportada do Egito para a Grécia e se tornaria a principal marca arquitetônica daquela civilização.
A Necrópole de Sakkara logo começou a ser povoada por pirâmides sendo que dentro em breve o modelo escalonado (ou de mastabas) criado por Imhotep foi ultrapassado. Ao redor das pirâmides continuavam a se amontoar as mastabas dos dignatários ligados ao Faraó e a maior honra que alguém poderia receber (em geral concedida a Nomarcas que houvessem prestado serviços relevantes) era a concessão de uma mastaba ao lado da pirâmide Faraônica.
A idéia de culto ao Faraó ganhou mais força ao longo da III Dinastia chegando ao seu ápice durante a IV. Nesta época, quando um Faraó morria, seu corpo era sepultado em Sakkara, mas uma estátua sua era erigida em Abidos onde ele seria cultuado para todo o sempre.
4.6.1 – As Glórias da IV Dinastia:
Sem exageros a IV Dinastia pode ser considerada como sendo aquela em que o poder dos Faraós mais foi grande, além disso, também é a Dinastia que construiu as obras mais impressionantes da História Egípcia.
A Dinastia se inicia com Snefru chegando ao trono por se casar com a filha do Faraó Huni (último governante da III Dinastia que morreu sem deixar filhos homens). Em seu governo, Snefru construiu nada menos do que três pirâmides. Na verdade, concluiu a pirâmide deixada incompleta por seu sogro e construiu mais duas: a Pedra do Sul (a famosa pirâmide inclinada) e a Pedra do Norte (a primeira pirâmide no estilo tradicionalmente conhecido), ambas em Dahshur.
A Pedra do Norte era a maior pirâmide construída até então e foi a primeira a se parecer com aquilo que nós hoje entendemos por pirâmides. Isso porque Snefru teve a idéia de mandar preencher os degraus externos de sua pirâmide para dar a ela um visual mais suave e retilíneo (de acordo com a Maat, como ela se expressa na arte Egípcia).
O filho de Snefru, Khufu (mais conhecido como Quéops) levou a construção de pirâmides ao auge de seu esplendor. Sua pirâmide (construída no planalto de Gizé) levou mais de vinte anos de trabalho de cerca de cem mil homens para ficar pronta, mas é a maior maravilha do Egito Antigo tendo consumido mais de 2,3 milhões de blocos de pedra (para se ter uma idéia do volume de tal pirâmide, basta saber que se ela fosse transformada em cascalhos, seria possível construir com esse produto uma estrada de duas pistas e trinta centímetros de espessura que saísse Monte Caburaí (na Amazônia) e fosse até o Arroio Chuí (no Rio Grande do Sul), ou seja, que cortaria o Brasil inteiro). E não é só, a pirâmide era recoberta por uma cobertura calcária de Tudra que brilhava ao sol e sobre tal cobertura estavam gravados milhares de hieróglifos (hoje já não existem tais inscrições que foram destruídas e/ou roubadas por Cristãos, Muçulmanos e pretensos magos ao longo dos séculos, no entanto, no
século XII d.C., o escritor Árabe Abd el Latif escreveu que os hieróglifos que ainda recobriam a pirâmide seriam suficientes para preencher mais de dez mil páginas de livros). O que estava escrito na Grande Pirâmide de Quéops? Nunca saberemos...
A pirâmide de Quéops
Agora imaginemos como deve ser difícil construir algo de tamanhas proporções sobre as instáveis areis do deserto. Bem, agora que já pensamos nisso e uma vez que já sabemos que os Egípcios não eram exímios matemáticos, como explicar que a Grande Pirâmide esteja situada sobre um chão cuja margem de erro em relação à horizontalidade perfeita é de apenas 0,004%?
Agora vejamos, será mesmo que é possível conceber a construção de edifícios tão complexos quanto as Grandes Pirâmides num tempo tão recuado e com uma matemática tão pouco avançada? Bem, para muito isso não parece razoável e é justamente daí que surgem teorias como as de Erich von Däniken, que atribuem construções como as Pirâmides a seres extra-terrestres, ou ainda teorias como as que falam sobre Atlântida e outras civilizações perdidas muito mais antigas do que as mais antigas civilizações de que se tem notícias e que de tão avançadas teriam inspirado toda a evolução subseqüente do mundo.
Esquema de um corte lateral na Pirâmide de Quéops, com seus caminhos internos e câmaras mortuárias secretas
Essas teorias são, em sua grande maioria, completamente infundadas, mas não resta dúvida que existem muitas passagens obscuras na História da Humanidade, ainda mais se levarmos em conta que toda a História posterior à Antigüidade conta apenas pouco mais de um quarto da duração de tempo que aquele período teve sozinho, ou seja, tempo para que coisas acontecessem e fossem esquecidas houve, especialmente se levarmos em conta que não havia meios de comunicação eficientes como os de hoje. Não estou, é claro, falando em alienígenas ou mesmo em civilizações antigas mais desenvolvidas. Estou apenas deixando um ponto em aberto, algo que, a meu ver não deve ser abandonado como falso na medida em que não se pode prova-lo como tal, mas que também não deve ser aceito como verdadeiro pela mesma razão, deve apenas ser deixado em aberto.
Mas, depois dessa digressão, voltemos a falar das Grandes Pirâmides. Elas foram construídas por Khufu (Quéops), Khafre (Quéfren) e Menkaure (Miquerinos) e, segundo algumas teorias tidas como mais sérias, poderiam ter feito parte de uma espécie de programa estatal de combate ao desemprego gerado pelo “boom” populacional dos primeiros anos do Antigo Império.
É claro que tais teorias têm que ser compreendidas dentro da ótica de seus teóricos, pessoas que aceitam como verdadeira a “Hipótese Causal Hidráulica” e que, dessa forma, entendem que depois da centralização do poder o Egito teria atingido o estágio necessário para começar a explorar os recursos do Nilo, coisa que, segundo a teoria adotada neste texto, o Egito já fazia muito tempo antes da unificação, mais precisamente, desde os tempos dos Spat.
Seja como for, essas três pirâmides demandaram muito tempo e mão-de-obra para serem construídas e construções tão bem acabadas não podiam ser feitas com quatro meses (o Período da Inundação) de trabalhos anuais apenas, mas necessitavam de trabalhos constantes, sendo assim é quase certo que houvesse um grupo de trabalhadores altamente qualificados que fosse contratado do Estado em tempo integral para organizar a obra e montar sua infraestrutura, sendo que durante o Período da Inundação esse grupo era reforçado por legiões de trabalhadores.
Quanto ao fato de escravos terem sido utilizados na construção das pirâmides, essa hipótese já está totalmente descartada. Isso porque tanto a população pagava seus tributos ao governo em trabalhos, quanto a construção de um local de repouso eterno para o Semi-Deus se tratava, antes de tudo, de um ato de fé, o que certamente arrastava muitos trabalhadores de livre e espontânea vontade, em busca da garantia de suas próprias vidas após a morte, uma vez que a do Faraó fosse assegurada.
Pirâmide de Quéfren, com a Esfinge à frente
Esquema interno da Pirâmide de Quéfren
Esquema interno da Pirâmide de Miquerinos
No que se refere aos processos de construção, o que mais se acredita possível é que houvesse uma espécie de moldura arredondada de madeira que era encaixada nas laterais das rochas de modo a faze-las aptas a rodas. Porém, outra teoria forte era a de que uma espécie de tapete era colocada sob a rocha e o chão por onde este iria deslizar era molhado para facilitar o deslocamento, sendo assim, a rocha seria arrastada do porto onde desembarcava (sim, porque o grosso do trajeto era feito de barco pelo Nilo) até o local da construção. Os que defendem esta teoria o fazem por dizer que as rodas afundariam nas areias, o que dificultaria ainda mais o transporte, além disso, eles também dizem que antes do Novo Império, quando da introdução das bigas, não há indícios da utilização da roda no Egito, visto que todo o transporte era realizado pelo Nilo, não havendo nem sequer estradas. A acomodação das pedras era, com certeza o processo mais trabalhoso, visto que não havia qualquer tipo
de guindaste, sendo assim, para cada novo andar seria necessária a ampliação da passarela de acesso que era desmontada tão logo a pirâmide estava concluída. É ainda possível que se utilizasse um modo de construção destacado na Grécia, ou seja, o modo de ser ir enterrando o andar que estava pronto para se ter acesso aos níveis mais altos através de um andaime natural de areia. Por fim, quando a construção ficava pronta, desenterrava-se o edifício dando-lhe seu acabamento.
Vista externa da Pirâmide de Miquerinos
4.6.2 – Os Enigmas da Esfinge:
Se as Pirâmides de Gizé foram consideradas por Antípatro de Sídon, no século II a.C. como uma das Sete Maravilhas do Mundo, a Esfinge certamente não o foi por estar, à época da passagem do Grego pelo Egito, coberta pelas areias do deserto, como, aliás, ela esteve por vários períodos da História do Egito. Existe uma inscrição encontrada em sua capela (entre suas patas, como será explicado mais adiante) que diz que o Faraó Tutmés IV a desenterrou das areias onde jazia há muito tempo.
A Esfinge
A Esfinge é uma grande estátua antropozoomórfica, com corpo leonino e feições humanas cuja presença está inserida no contexto do complexo funerário da Pirâmide de Quéfren, inclusive com uma espécie de avenida ligando-a a pirâmide. Ela foi esculpida naquilo que é o cume de uma montanha recoberta pela areia, sendo assim, não foi necessário transportar toneladas de pedras de lugares distantes para o Planalto de Gizé. Até aí, nenhum mistério, nenhum enigma.
No entanto, como sempre sucedeu com tudo o que se refere ao Egito Antigo, a Esfinge sempre esteve cercada de especulações científicas e pseudo-científicas a respeito de tudo, desde sua origem até seu propósito, passando pelos padrões de erosão de sua superfície.
Para começo de conversa, existem os rumores de que é possível entrar dentro da Esfinge, ou seja, de que existem câmaras internas dentro da estátua. Na realidade, nunca ninguém encontrou (ou ao menos divulgou ter encontrado) uma entrada para a esfinge, contudo, exames de densidade da rocha e de ressonância comprovam que de fato há galerias internas e o que é mais intrigante: cheias d’água. Alguns especialistas explicam o fenômeno de forma simples, dizem que existem cavernas dentro da montanha no topo da qual a Esfinge foi esculpida e que tais cavernas estariam cheias d’água por uma dessas duas razões: ou seria apenas um braço do lençol freático, ou seria a conseqüência de uma suposta prática do Egito Antigo de encher com água o recinto da Esfinge de modo que esta ficasse apenas com a cabeça fora d’água. Esta água teria se infiltrado e se acumulado nas galerias internas estando impedida de evaporar e permanecendo lá até hoje.
É bem verdade, no entanto, que escavações realizadas entre as patas da Esfinge encontraram uma espécie de capela abarrotada de estelas de Faraós, aliás, numa dessas estelas aparece o nome Khaf, primeira sílaba de Khafre (Quéfren), o que serviu como reforço indelével para a teoria de que este Faraó teria sido o responsável pela construção da Esfinge, no entanto, o que muitos não levam em consideração é o fato do nome estar incompleto e não estar envolto na Cártula Real (espécie de circunferência oval que contornava os nomes dos Faraós Egípcios). Além disso, o texto em que esse nome aparece não indica que este indivíduo construiu a Esfinge, mas sim que construiu algo para o Deus Aton-Harmakhis (também chamado de Ra-Horemkhat), ou seja, a Esfinge (uma vez que se acredita que a Esfinge seja a representação do deus solar), o que pode indicar apenas que tenha construído uma imagem, ou mesmo a própria estela, para a Esfinge.
Seja como for, existem videntes e profetas que alegam que dentro das galerias da Esfinge estariam papiros com informações sobre o destino do mundo e que das duas uma: ou esses papiros ainda estão por ser encontrados e, sendo assim, por trazer suas informações para a humanidade, ou já foram encontradas e hoje constam dos arquivos secretos de alguma antiga potência colonialista Européia (ou mesmo dos EUA).
O que fica de realmente instigante nessa especulação é a necessidade de se saber o que há realmente dentro das galerias da Esfinge e se elas são naturais ou não.
Outra interessante teoria sobre a Esfinge diz respeito aos padrões de erosão encontrados em sua superfície. Há algum tempo, em 1991, um renomado Professor de Geologia da Universidade de Boston chamado Robert Schoch, a pedido e patrocínio do esotérico John Anthony West (indivíduo extremamente mal quisto entre os Egiptólogos tradicionais, por defender, desde os anos 70, teorias de que Atlântida realmente existiu e de que uma civilização perdida de Marte teria influenciado a evolução da civilização na Terra), estudou os padrões de erosão da estátua (que mede 73,15m de comprimento por 20m de altura) e chegou à conclusão de que eles só poderiam ter sido causados por água. Essa conclusão gerou frisson entre os Egiptólogos, uma vez que os índices pluviométricos dos últimos 4000 anos não seriam suficientes para causar tais erosões. Novamente falou-se da teoria de que se enchia o recinto da Esfinge de água deixando-a apenas com a cabeça para fora o que, aliás, explicaria o fato de
a cabeça ser bem menos erodida do que o resto do corpo da estátua. Houve diversas discussões e o Professor Schoch acabou propondo que uma piscina de águas paradas não seria suficiente para causar aquelas erosões, sendo assim, o impasse estava criado.
As teorias do geólogo Americano, reforçadas pelas dos dois gurus, Adrian Gilbert e Robert Bauval, autores do livro “The Orion Mystery” (que não trabalharam junto com ele, mas que também formularam teorias (estas Astrológicas (e não Astronômicas)) para o recuo da data da construção da Esfinge), chegaram à conclusão de que o padrão de erosão seria resultado de chuvas torrenciais que teriam varrido o Egito entre 10500 e 7000 a.C. (é bom que se saiba que para alguns as chuvas teriam começado a escassear por volta de 9500, como foi mencionado no início do texto, mas talvez só tenham realmente se encerrado por volta de 7000). O problema é que esta data se situa, pelo menos, mais de 4500 anos antes da data tida como sendo a da construção da Esfinge por Quéfren. Choveram então hipóteses que iam desde a associação da Esfinge com a Atlântida, como as divulgadas amplamente pelo esotérico Graham Hancock, até uma aceitação das datações de Mâneton para a cronologia da História do
Egito. Porém, outro renomado geólogo, Dr. James Harrell, da Universidade de Toledo, na Espanha, lançou uma teoria que contrapunha a do primeiro: segundo ele, os padrões de erosão da Esfinge se dão (e aumentam diariamente por esse mesmo motivo) por causa do sereno, pois como a Esfinge fica relativamente próxima ao Nilo, o sereno noturno é úmido. Ele se infiltra nas camadas mais externas e porosas da rocha e, com o amanhecer, que o esquenta e transforma em vapor, vai embora. Porém, a expansão da água se gaseificando dentro da rocha provoca leves erosões, o que acarreta no desprendimento de pequenas lascas de rocha da Esfinge diariamente.
Certo, muitos dirão, mas e quanto à cabeça? Por que ela não é erodida da mesma forma que o restante do corpo?
Bem, para pensarmos nisso temos que antes pensar em outro problema em relação à Esfinge. Muitos dizem que não foi Quéfren quem a construiu, afirmam que ela é mais antiga do que as Pirâmides e que foi sua localização que determinou a escolha do local para a construção destas. Estas teorias são as mais bem fundamentadas dentre todas, talvez até estejam corretas, pois vejamos:
A cabeça da Esfinge é desproporcionalmente pequena em relação ao restante do corpo da estátua. Isso leva a crer uma das duas coisas: ou seus escultores não tinham muita noção de proporção, o que parece um absurdo quando se está fazendo referência ao mesmo povo capaz de construir as Pirâmides, ou então, a cabeça é propositalmente menor do que o corpo. Agora vejamos, segundo as teorias mais aceitas, a cabeça da Esfinge representa o Faraó Quéfren (se bem que o investigador de polícia Americano Tem. Frank Domingo, especialista em comparação de retratos falados, tenha comparado seu rosto com uma outra escultura de Quéfren (esta com o nome do Faraó) e chegado à conclusão de que se tratam de pessoas diferentes, no entanto, a Esfinge, como todos sabem, não tem nariz, o que torna uma comparação muito difícil) e se isso for verdade, então por que justamente a parte da estátua que deveria ser (segundo os próprios padrões da arte Egípcia) maior por representar o Faraó é menor?
Talvez a resposta esteja no fato de a Esfinge ser realmente mais antiga do que as Pirâmides, talvez ela estivesse escondida debaixo das areias e tenha sido encontrada na época de Quéfren, o que o fez eleger o Planalto de Gizé para construir sua Pirâmide. Como o Faraó desejava ligara a estátua recém-encontrada ao seu complexo funerário, ele pode ter mandado reesculpir o rosto da Esfinge (fosse ele qual fosse) segundo o seu próprio, o que explicaria o fato dele ser desproporcionalmente pequeno em relação ao corpo.
Existe a história de uma expedição que se perdeu no deserto da Líbia a década de 20 do século XX d.C. e que depois de ter retornado para o Cairo contou que teria avistado, em meio a uma tempestade de areia, uma Esfinge que não a do Planalto de Gizé, mas com proporções semelhantes. Essa história é tida como uma invenção por muitos, mas o fato é que os caravaneiros nunca ganharam renome com ela e também que ela nunca foi pesquisada mais profundamente. Alguns poucos a pensar sobre ela chegaram à conclusão de que se ele for verdadeira, então poderia haver diversas Esfinges espalhadas pelos desertos próximos ao Nilo e elas poderiam ter uma espécie de função de defesa do território. Se isso for verossímil (o que não parece ser) talvez a Esfinge de Gizé seja apenas uma das muitas Esfinges que podem haver soterradas por entre os mares de areia do Saara oriental.
É interessante lembrar que em seu livro “Civilizações que o Mundo Esqueceu”, o Dr. Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu, Professor de Antropologia das Faculdades Santo Amaro e da Fundação Cásper Líbero, nos diz que em 1952 uma expedição comandada por Taminarakus, oficial responsável pelo Museu do Cairo na época, seguindo os relatos do viajante Omar el Hawari, teria descoberto, numa região hoje pertencente à Líbia (e, por conseguinte, inacessível a novas pesquisas, por este governo, segundo o Dr. Abreu, não permitir a presença de pesquisadores estrangeiros em seu território), uma Esfinge ainda maior que a de Gizé. Esta descoberta, ainda segundo o Dr. Abreu, viria a confirmar a informação supostamente descoberta num papiro de 900 a.C., e encontrada em 1943, que fazia referência a seis Grandes Esfinges Guardiãs do Egito. Ah, sim. Em todos os livros que constam desta bibliografia, não vi nenhuma outra menção a esta Esfinge Líbia que o Dr. Abreu afirma estar descoberta e
catalogada, por isso, como nunca tive a oportunidade de visitar a região, não creio que tal construção exista de verdade, caso contrário, a meu ver, deveria ser digna ao menos de menção em obras mais conceituadas, mas, em última instância, é o leitor quem decide no que acreditar.
Qual a verdade sobre a Esfinge?
Talvez nunca venhamos a saber. Isso porque devido a vários problemas, desde conflitos religiosos até a presença de pessoas sem real interesse científico (mas apenas a intenção de comprovar suas crenças esotéricas) na região, a pesquisa séria se torna muito comprometida. É interessante notar também, como falaremos mais no final do texto, que a ação de ladrões de antiguidades também compromete muito a formulação de teorias, visto que desde o Egito Antigo existem quadrilhas que vivem de pilhar aquilo que restou do Período Faraônico. A falta de investimentos financeiros (que deveria advir do turismo, mas que é comprometida devido a ação de grupos extremistas que julgam o passado “pagão” do Egito como algo a ser esquecer e não a se pesquisar) também é fator importante na demora em se descobrir novos sítios e em se formular novas teorias. Hoje, para que um Historiador decida se capacitar como Arqueólogo já é um custo, visto que isso indica quase a certeza de maus ganhos
financeiros futuros, se este indivíduo decidir ser Egiptólogo, então, terá que romper sozinho diversas fronteiras, como por exemplo os altos custos das viagens e da manutenção internacionais, a dificuldade em se encontrar um orientador devidamente capacitado para orientar uma Pós-Graduação em Egiptologia (na própria Universidade de São Paulo, o maior centro de pesquisa do Brasil, não existem muitos professores capacitados em orientar alunos nessa área), dentre outras... Este é o destino da pesquisa científica em Humanidades, ser relagada ao segundo plano em detrimento de pesquisas das áreas de Exatas e Biológicas.
recebi sem autoria
__________________________________________________
Fale com seus amigos de graça com o novo Yahoo! Messenger
http://br.messenger.yahoo.com/